Esta é a memória da memória. Rosa Margarida conviveu desde pequenina com o seu avô. Movida pela curiosidade, perguntava ao seu avô o que se recordava da guerra. E ele contava. As palavras que se seguem são as suas, recordando o que Alfredo Francisco Pereira contava, quando da guerra se recordava. Uma guerra que, como veremos, o marcou profundamente para o resto da sua vida.
«O meu avô Alfredo Francisco Pereira nasceu a 26 de Janeiro de 1893 em Vale do Paraíso, concelho de Azambuja e faleceu a 31 de Julho de 1966 quando eu tinha 15 anos. Desde que me lembro, nunca o ouvi levantar a voz para se zangar com alguém, a não ser nas acesas discussões com o irmão mais novo, o meu Tio Manel, que por isso mesmo não tinha ido à guerra, e que era contra o Salazar e muito revolucionário. O meu avô tinha admiração por Salazar pois achava que ele tinha evitado que os portugueses tivessem participado na 2ª guerra mundial. Pessoa muito sensata, amigo de toda a gente, não podia saber que alguém passava fome sem lhe dar de comer ou de lhe arranjar trabalho para se sustentar.
Foi este meu avô que me ensinou a ler, tinha eu apenas três anos, pois desde muito pequenina me sentava ao colo enquanto ele lia o jornal. Ensinou-me, a meu pedido, o que eram letras e como se juntavam. Assim, a primeira palavra que li foi O SÉCULO, jornal de que era assinante. Também me ensinou muitas palavras em francês e principalmente, hoje o reconheço, o sentido de justiça, da solidariedade e da amizade. Os pais dele, meus bisavós eram muito considerados na nossa aldeia de Vale do Paraíso, pois embora muito pobres e quase sem ter que dar de comer aos seus oito filhos (4 raparigas e 4 rapazes) a todos mandaram fazer a 4ª classe (2º grau de ensino, nessa altura) mesmo com sacrifício das crianças que tinham que ir e vir a pé por caminhos de pé posto e lama a Azambuja para terem aulas. Também a todos mandou ensinar uma profissão depois de fazerem a 4ª classe, para que não tivessem de ficar à mercê do trabalho da enxada e da foice tão incertos como mal pagos.
Ao meu avô, calhou-lhe a profissão de caixeiro e foi já com esta profissão que foi incorporado no exército no 1º Batalhão de Infantaria nº 2 em 4 de Janeiro de 1914.
Educado nesta linha, em que o pai sempre lhe disse que era tão importante saber ler, escrever e fazer contas como ter o que comer (por vezes o almoço era uma fatia de pão de milho e uma sardinha dividida por três ou um pedaço de torricado – pão torrado com azeite, alho e sal – o meu avô, quando casou com a minha avó, ensinou-a a ler, a escrever e a fazer contas e também lhe ensinou a falar alguma coisa de francês ao ponto de ela ter conseguido conversar com um francês que por ali apareceu na loja (de que já eram proprietários) enquanto o fez esperar pelo meu avô que tinha ido fazer o seu passeio até à vinha. Lembro-me (embora fosse pequena) do orgulho que o meu avô tinha na sua Carlota tão inteligente que no meio de uma vida de tanto trabalho tinha aprendido muito bem os ensinamentos dele.
Tinha graves problemas de reumático e muitas dores nas articulações. Sequelas dos dias e noites de intenso frio passados nas trincheiras de França no meio de lama, chuva e neve e sem roupa adquada.
Então, e talvez por causa disso, todos os dias se deitava um pouco a seguir ao almoço, mas se queria dormir a sesta e eu ou o meu irmão não estavamos na escola, não o conseguia. Um de cada lado dele na cama estreita que herdei e onde hoje durmo, começava a cantilena: - Vôzinho, conte-nos histórias da guerra...
Foi assim, através destas narrações que eu hoje poderei dar aqui o meu testemunho do que ele passou e do que foi aquela horrível guerra de trincheiras.
Interessante que depois de ler um livro com testemunhos de vários militares feitos prisioneiros na batalha de La Lys compilados pelo capitão António Braz em 1936 (livro que a minha mãe descobriu há muitos anos, não sei onde) e onde vem uma fotografia onde está o meu avô, tudo o que ele me contou assumiu aspetos muito mais realistas e assim consegui visualizar os locais por onde caminhou desde França até a Alemanha com a fome, a sede, o cansaço e o medo por companhia.»
Depois, continua dizendo nestas memórias que escreveu: «Passemos às memórias. Quando foi enviado para França, foi com ele um irmão, António Pereira. Dor a dobrar para os pais com dois filhos na guerra. Segundo o meu avô este seu irmão António, mais novo que ele, era muito brincalhão e nunca se atrapalhava se queria resolver alguma situação. Chegados a Paris após longa viagem de combóio, iam cheios de fome. Viram uma padaria e o meu tio-avô António, sem mais pormenores, entra porta dentro e diz: - Ó Madame, dê-me um paposseco! Uns segundos depois saía disparado a correr com a “boulangère” atrás dele de pá do forno em riste. Vamos lá a perceber o que é que ela entendeu com o paposseco.... O certo é que se não fosse a diplomacia do meu avô pedindo desculpas por gestos, não teriam conseguido comprar um pão.
Seguiram para Norte e depois de aquartelados começaram a ter aulas de francês. As hipóteses de higiene eram muito escassas e eram obrigados a ter sempre os cabelos rapados. Durante esse tempo de aprendizagem e pouco antes de seguirem para a frente de guerra, houve quatro companheiros que se apresentaram na formatura sem o cabelo rapado. Foram castigados e o pequeno pedaço de pão duro e a batata cozida que boiava no caldo do dia foram-lhes retirados. Para que não ficassem 24 horas sem comer os companheiros distribuíram-lhes um pouco do seu caldo e do seu pedaço de pão diários. Na outra manhã quando do começo das aulas de francês, estava escrito no quadro de ardósia: - “A vitória dos aliados depende dos cabelos rapados” - “La victoire des Alliés depend des cheveux rasés”.»
Rosa Margarida digitalizou algumas folhas dos cadernos cuidados de seu avô, que associamos à sua narração, e que o mesmo guardou. Relativamente aos mesmos refere: «Interessante que um deles é alemão, embora os apontamentos sejam os das aulas de francês.»
E continua dizendo: «Lamento hoje muito do que se perdeu, de memórias palpáveis, as cartas censuradas do meu avô para a mãe, em que todas as linhas eram pintadas a preto. Chegavam abertas e nalgumas apenas se lia no início “Querida mãe” e ao fim de duas ou três páginas de listas pretas “Beijos do seu filho Alfredo”. Também as divisas vermelhas de sargento, a medalha recebida como “herói da grande guerra” e uma colecção de moedas francesas e alemãs desapareceram, levadas pelo tempo, pelos telhados e muros que ruíram.
Sei que a partir de certa altura, o meu avô escrevia com metáforas do tipo: - "Mãe, estou aqui tão bem como a família do tizinho. Tenho comida e dormida quase tão boa como a deles". Eram as famílias mais pobres de Vale do Paraíso e assim podia dar as notícias más sem que as cartas fossem censuradas. Havia até um caderninho onde ele apontava meticulosamente tudo o que tinha conseguido receber de casa: - um chouriço, uma linguiça, que de quatro em quatro meses por vezes chegavam para mitigar fomes do corpo e da alma.
Sempre me lembro de que quando alguém da família dizia: - tenho fome, vou comer qualquer coisa, ele imediatamente nos repreendia dizendo que o que nós tínhamos era vontade de comer porque fome era outra coisa muito diferente. Era uma sensação que tirava o discernimento e degradava a condição de se ser pessoa. Ele bem sabia o que era fome. Pior que o frio, pior que as rajadas de metralhadora, roía por dentro o corpo e a mente e transformava um homem num bicho.»
Rosa Margarida continua a narrativa das memórias que seu avô lhe contou escrevendo: «Entretanto a 3ª Companhia a que o meu avô pertencia, foi mandada para a frente de batalha. Primeiro dentro de um combóio e depois em longa e dura marcha. Não consigo precisar (ele não deixou escrito) exatamente a zona para onde foram mas imagino que seria não muito longe de Saint Venant pois o quartel general do comando do corpo expedicionário português era aí sediado.
Mais uma vez a fome e a sede aguça-lhes o engenho. Passaram por uma quinta e viram uns galos e umas galinhas. Chegados ao portão perguntaram à quinteira se lhes vendia uma galinha. Ela disse-lhes que não, que eram para a família e que se fossem embora bem depressa. O meu tio-avô António e dois outros soldados agarraram um galo e começaram a observá-lo atentamente. Esticaram-lhe o pescoço e levantaram-lhe as penas com um ar muito sério. Um deles virou-se para a senhora e disse-lhe: - Ce coq est bleu. Il a gaz. C'est très dangereux pour votre santé. Je peu m'occuper de ça. A quinteira, assustada, diz-lhes: Oui, oui, portezle! É claro que nessa noite tiveram galo cozido para o jantar que gaseado ou não lhes proporcionou um banquete de reis.
O que me contava das trincheiras, dos abrigos feitos de sacos cheios de terra, era difícil de imaginar. A lama, a fome, o frio e os ratos coabitavam com eles. A morte e os gritos dos feridos também, e como o meu avô dizia, não há nada pior na vida que ver um camarada a morrer e sentir-se impotente. Os bombardeamentos eram diários e o tempo entre bombardeamentos e metralha eram de terror. Dormir era coisa de luxo.
Uma noite o meu avô disse para um dos seus soldados: - “Não durmo há 3 dias, hoje meto-me no abrigo e nada me fará arrancar da tarimba. Vou dormir”. Acabou de dizer isto e deitou-se sobre a enxerga desconfortável de aparas de madeira que espetavam o corpo, tapou-se com o capote e adormeceu de imediato. Poucos minutos depois, sentiu-se arrastado pelo mesmo soldado que gritava: - “Saia daí, meu sargento!” - Puxou-o para fora e uma granada caiu dentro do abrigo, mesmo no meio da tarimba onde há segundos ele dormia, destruindo tudo. O meu avô abraçou-se ao soldado chorando: - “Salvaste-me a vida, rapaz”.»
Do 9 de Abril seu avô contava: «Na noite de 8 para 9 de Abril de 1918 tudo parecia calmo. Esta acalmia fez com que vários camaradas se juntassem a conversar e a relembrar famílias e terras. Por volta das 4h da madrugada de 9 de Abril começou o inferno. Choviam tiros de metralhadora, granadas. Os abrigos e trincheiras ficam completamente destruídos. O meu avô e os seus homens começam a percorrer o labirinto de lama enquanto ouvem a artilharia ripostar. Tentam avançar mas o primeiro que colocou a cabeça de fora foi imediatamente morto. Conseguiram chegar a um abrigo apinhado a que ele chamava de “Lacouture” e aí ficaram cheios de sede, de fome, já sem munições e sem qualquer auxílio. Completamente cercados, foram feitos prisioneiros. Os primeiros soldados que saíram do abrigo de mãos no ar foram abatidos a tiro pelos soldados alemães que sem piedade roubaram tudo o que puderam aos já tão indigentes portugueses. Capotes, botas, dinheiro e até uma pequena côdea de pão. O irmão mais novo tinha desaparecido.
E começou a marcha.
A pé, exaustos, cheios de sede e famintos. A sede era tanta que chegavam a apanhar um pouco da erva orvalhada da beira do caminho para chuparem umas gotas de água. Os alemães, jocosamente bebiam dos seus cantis e comiam virados para os prisioneiros. Chegaram ao primeiro campo rodeado de arame farpado por volta das 2h da madrugada e ali ficaram ao relento durante mais de 2 horas, debaixo de uma chuva fria e miúdinha batendo os pés no chão para tentarem aquecer-se e por fim enroscando-se no chão encostados uns aos outros para descansar as pernas. O frio era intenso e os poucos capotes que alguns ainda teriam tinham sido roubados pelos alemães.
De manhã bem cedo foram mandados formar e iniciaram nova marcha sem que lhes tivessem dado o que quer que fosse para comer ou beber. Contava o meu avô que pelo caminho ao passarem por uma pequena vila, saíram à rua raparigas francesas com alguidares com água e com aventais cheios de pedaços de pão e começaram a distribuir a água e o pão pelos prisioneiros. Os soldados alemães desembainharam baionetas e apontaram-lhas. Uma das raparigas, com a baioneta encostada à barriga, gritou-lhe em francês: - “Mata-me se quiseres!” E continuou a distribuir o pão. O meu avô contava sempre com admiração a coragem daquelas raparigas e que aquele pedacinho de pão e púcaro de água fizeram-lhe recuperar ânimo.
Depois atravessaram a Bélgica e também aí umas corajosas mulheres saíram para o meio deles tentando dar-lhes qualquer coisa para comer mas foram de imediato postas fora pelas baionetas alemãs. Aí o meu avô não conseguiu o tal pedacinho de pão...
Só a 15 de Abril chegaram ao campo de Friedrisfeld na Alemanha. Deram-lhes dormida em tarimbas de madeira com enxergas de papel e aparas de madeira a fazer de colchão e apenas lhes indicaram que se tivessem sede havia um poço. A água do poço era imunda. De manhã davam-lhes uma beberragem a que chamavam café, que era um espécie de água quente com cevada e a única refeição da noite era uma colher de papas de trigo. Por duas vezes, creio que ainda na Bélgica, deram-lhes ao “jantar” um pedacinho de foca cozida. O meu avô sempre me dizia que era foca podre pois tinham que tapar o nariz para a comerem, tal era o mau cheiro.
Pensando que seria melhor os alemães não saberem o posto deles, os sargentos esfregaram as divisas vermelhas com lama. Chegaram depois à conclusão que assim não era. Juntaram-se vários sargentos (alguns com a experiência de quem não era miliciano) e exigiram tratamento de prisioneiros de guerra. A única coisa que conseguiram foi não ter tantos trabalhos forçados porque a alimentação (se assim se poderia chamar ao que lhes davam diariamente) nada melhorou.
Houve neste campo um episódio que marcou o meu avô e que sempre me contava. Aparece um alferes alemão e dá de caras com um prisioneiro que estava junto ao meu avô. Grita-lhe em bom português: - “António, tu estás aqui???” O tal António abraça-se a ele e diz-lhe: - “Jorge, como é possível, nós tão amigos como irmãos estarmos em lados opostos!”. Jorge era alemão, vivia em Portugal desde pequeno tinha sido colega de escola do tal António e eram muito amigos. Foi este Jorge (ou George) que todos os dias surripiava qualquer “iguaria” ou maior quantidade de pão preto para dar ao António e aos seus companheiros de camarata e, claro ao meu avô.
A 11 de Novembro de 1918 terminava o conflito europeu. A notícia só chegou ao campo às 23 horas. Os alemães foram retirando aos poucos e a 14 de Novembro já não restava nenhum no campo. O governo português nada fez para apoiar os prisioneiros e eles tiveram que ir regressando à Bélgica e depois à França pelos seus próprios meios, comendo uns caldos aqui e ali, dados de boa vontade pelos Belgas e Franceses enfim libertos e agradecidos aos portugueses.»
Relativamente ao Armistício, narra ainda sua neta: «Não sei como, se através do rádio do campo de prisioneiros, o certo é que o meu avô copiou à mão todas as cláusulas do armistício, tal era a importância que isto teve para ele.». E mostra-nos a primeira página do documento que refere que o combatente terá produzido nessa altura.
«Durante muitos meses a família não soube nada dele. O irmão António regressou a casa. Livrou-se de ser feito prisioneiro enterrando-se numa vala de lama durante mais de 36 horas e fingindo-se de morto e assim, ferido, foi licenciado e repatriado mais cedo. As cartas do meu avô não chegavam pois durante o cativeiro ninguém as enviava e depois do fim do conflito os correios não funcionavam. A minha bisavó chorava sem saber notícias do filho. Um dia, uma outra mãe que também tinha o filho em França recebeu uma carta dele e veio a correr gritando: - “é a letra do Alfredo Pereira, ele está vivo!” O filho dela não sabia escrever e era o meu avô quem escrevia o que ele ditava. Foi assim que a esperança renasceu e passados alguns meses chegaram juntas 6 cartas do meu avô para a mãe, todas elas cheias de preocupação pois não sabia do irmão António.
Apesar de todas as dificuldades das etapas desta guerra, o meu avô ainda teve tempo para namorar. Uma namorada alemã a quem ele chamava Constança. Lembro-me de ter ainda visto uma fotografia dela com dedicatória. Eu era criança e perguntava-lhe muitas vezes: - “Como é que vocês namoravam se o avôzinho não sabe alemão?” Ele só me respondia (claro que eu não entendia): - “ó minha querida, em tempo de guerra não se limpam armas!”
Além da Constança, também houve uma outra namorada francesa, a Claire Arnoud e acho que esse foi um grande e duradouro amor pois o meu avô só foi repatriado no final de Janeiro de 1919.»
De Claire existia um postal, recebido já quando ele estava em Portugal. «Quanto às suas fotos, a minha avó depois de casada rasgou-as, pois o meu avô tinha por hábito quando ela lhe chamava a atenção para qualquer coisa e só para a acicatar, de dizer, agarrado às fotografias: "Ai a minha querida Claire nunca me diria isso...".
Ainda hoje me comovem as doces palavras de amor da Claire. Faço votos para que tenha sido feliz e para que tenha tido uma neta que a amasse tanto como eu amei o meu avô.»
Este foi um relato comovente de quem desejou honrar e recordar. Rosa Margarida termina ainda dizendo: «Soube-me bem escrever isto. Poderá não ter préstimo como testemunho válido, pois são memórias contadas aos netos, mas é uma homenagem que hoje lhe presto, avôzinho.Um homem íntegro a quem, em Vale do Paraíso chamavam “o pai dos pobres”.»

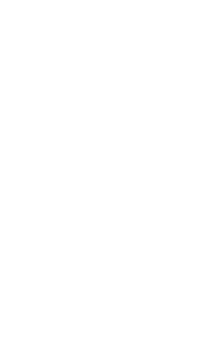
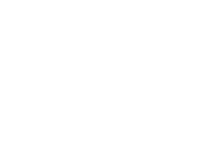
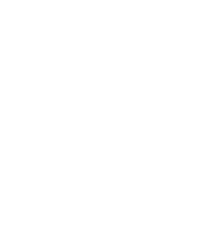
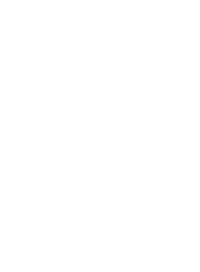
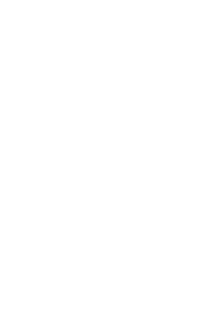
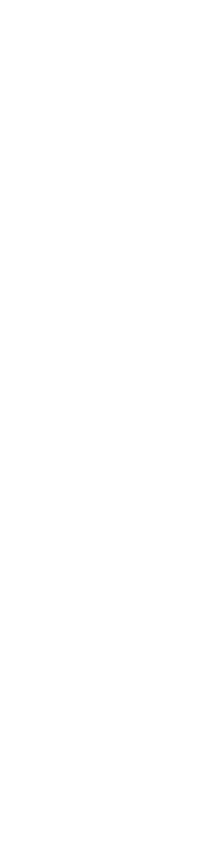







Comentários